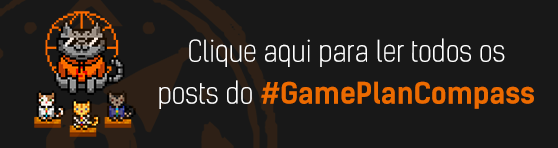Costumo dizer que a minha geração – a que foi criança nos anos 2000, viveu na verdade um século em pouco mais de dez anos. Acho que essa década ainda tinha um sabor anos 90, o passado ainda parecia muito próximo, mas o futuro também. Lembro com gosto de chegar ao caixa do recém falido Supermercado Extra e me deparar com revistas acompanhadas de cds com 100 jogos para computador na prateleira ao lado.
Embora já tivesse vários deles, sempre pedia mais um para minha mãe e ela hesitava, considerando as horas que eu iria passar no computador. Mas ao final ela se compadecia e me dava, já que eu não tinha videogame. Tinham jogos de todo tipo, aventura, luta, esporte. Jamais esqueço de um jogo de ser dentista onde o objetivo era simplesmente… Arrancar dentes (e ver o sangue saindo da gengiva).
Passei a infância me sentindo um pouco impotente diante dos jogos, pois eu era péssima em todos: Prince of Persia, Super Mario World, Sonic (meus favoritos na época). Nos anos seguintes prossegui piorando, fosse no Café Mania do Orkut ou mais tarde no Criminal Case do Facebook. Mas apesar disso, ainda quando criança, havia em mim uma curiosidade que nunca passava, que era a de forjar novas personalidades. Na velocidade em que a tecnologia se desenvolvia, eu pensava que poderia ser o que quisesse.
Ao jogar, imaginava coisas como: Será que é possível voar se eu adicionar algo a esse comando? E se eu me apaixonar por esse personagem? No fundo sabia que tratava-se de uma realidade limitada, mas preferia pensar que a imprevisibilidade do jogo – já que eu nunca os finalizava, fosse me dar algum tipo de recompensa surreal, como quem descobre um território onde ninguém se aventurou antes.
Esse sentimento de “tudo é possível” ficou comigo por anos, especialmente com a chegada do youtube, quando pude visualizar os videoclipes das várias músicas que estavam no meu mp3, baixadas no emule e 4shared. Foi assim que descobri que além do Daft Punk existia o Interstella 5555 e foi aí que o cinema entrou.
No filme eu sabia que não podia intervir, mas ele me dava o conforto do fim, do entendimento de ser quem eu era. Um pouco triste? Talvez. Era um pouco como assistir VHS’s caseiras. Mas eu assistia inúmeras vezes aos mesmos filmes, gostava, desgostava e “regostava” das tramas e dos personagens, sempre atribuindo a eles novos sentidos.
Ocorre que os filmes que eu gostava (além de musicais e alguns romances) tinham uma questão que retornava à natureza exploratória do jogo. Em algum momento eles remontavam a história, ora do passado, ora do futuro. ou de um espaço/tempo que sequer existia no mundo como conhecíamos, tal como a era nuclear, seus espiões, agentes secretos, monstros gigantes e máquinas do tempo. Era a ficção científica. A suposição de tudo e a certeza de nada. A ficção (a farsa) científica (pitadas de positivismo, para dar o tom de realidade).
Minhas referências eram as mais diversas, das mais bregas às mais sofisticadas, bem como minhas colocações sobre elas. Armageddon (1998) por exemplo, me trazia a iminência do fim, onde alguém devia morrer ao som de I Don’t Want to Miss a Thing do Aerosmith. No entanto, nesse caso, o sacrifício era menos messiânico do que parece já que, ao meu ver, a mocinha interpretada por Liv Tyler sofreria muito mais pela morte do seu pai do que tudo o que seria destruído se caso o asteróide atingisse o planeta.
Na ficção científica, o fim para mim deixava de ser o último minuto do filme e passava a ser a relatividade da narrativa trazida por ele. Esse mesmo sentimento continuou com outros filmes e séries como O Dia em que a Terra Parou (1951), Metropolis (1920), Matrix (1999), Blade Runner (1989), Arrival (2016), Ex Machina (2014), Stalker (1979), Solaris (1972), Black Mirror (2001), Altered Carbon (2018), The Midnight Gospel (2020), Love, Death and Robots (2019) e até mesmo Dark (2017), dentre outros.
O “jogo” me remete ao curioso desconforto proporcionado pelos 8bits e mixagem de som de uma estética cyberpunk (em sua definição mais rápida, alta tecnologia e baixa qualidade de vida). O “filme” – e portanto o fim, coloca-se para mim na sobreposição do tempo do real e do tempo da ficção. Depois de passar por processos criativos e outros mundos como a programação, a montagem, a edição e a mixagem de som, essa sobreposição sugere exatamente a possibilidade de existência nesse limbo entre a nostalgia de um futuro incerto e a memória do que não pode mais voltar, o lugar imaterial onde a imagem do ”jogo” e do “filme” se encontram.
Assim como a ideia de burlar o jogo ou de acreditar que ele poderia ter uma vida própria – simplesmente porque minha imaginação queria, o cinema também propõe outros entendimentos sobre as facetas do tempo e da existência. Em Arrival (2016), o destino é o que rege a geografia na qual a vida extraterrestre escolhe se alocar no planeta. Em Stalker (1979), o futuro cheira à velhice, o que opera não é a tecnologia e as formas de poder, mas o desejo humano, que pode ser muito mais assustador e angustiante do que o desejo de uma máquina.
Logo, o conforto da conclusão do filme não me importava mais tanto, assim também como finalizar um jogo não era mais sinônimo de ganhar. O jogo e o filme são categorias de pensamento reais, na medida em que possibilitam que eu exista dentro das reflexões por eles engenhadas. Ah, por fim deixo aqui minha playlist de “sons do velho futuro” para quem quiser escutar!